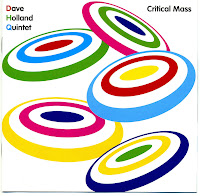Li alguns elogios ao novo disco dos The Who, agora reduzidos a Roger Daltrey e a Pete Townshend no que se refere a elementos da formação original, depois das mortes de Keith Moon e de John Entwistle. No essencial, era louvado o regresso da banda ao som que a caracterizou em álbuns como
Who's Next e
Quadrophenia. A expectativa era, por isso, a de reencontrar os poderosos riffs de Townshend na guitarra, sobrevoados pela raiva ou pela doçura que, alternadamente, Daltrey sabia colocar na voz. Não se pode dizer que a audição de
Endless Wire deixe frustrado quem nela se aventure. Os riffs explosivos continuam a morar aqui. E embora a qualidade das canções perca, em geral, na comparação com aquilo que os The Who fizeram nos seus melhores tempos, há bons momentos a registar. São os casos de
Man in a Purple Dress, a entrada de
Mike Post Theme, God Speaks of Marty Robbins e, ainda, alguns dos temas que integram a mini-opera intitulada
Wire & Glass que encerra o disco, sendo esta a parcela mais feliz de toda a obra e a que mais justifica o facto de Daltrey e Townshend terem decidido voltar aos estúdios para gravar sob o nome The Who, 24 anos após a edição do anterior álbum de originais da banda. Acontece, porém, que a voz de Daltrey já perdeu uma boa parte do seu potencial e a tentação de auto-plagiar o arranque de
Baba O'Rilley logo no início do disco, no tema
Fragments, deixam uma vaga sensação de mal-estar. Em resumo: aquilo que é bom em
Endless Wire não envergonha o legado dos The Who para a história do rock. Mas soaria bastante melhor se ainda estivéssemos na primeira metade dos anos 70. Não por uma questão de moda, mas porque o tempo é impedioso para quem pratica o género de música em que os The Who se distinguiram.
 À medida que o tempo vai passando, festejar a chegada de um novo ano é algo que me deixa cada vez menos entusiasmado. Não se trata de um caso de pessimismo militante. Faço parte daquele grupo de pessoas, que julgo bastante vasto, que não aprecia particularmente as datas em que é obrigatório estar bem disposto e confiante no futuro. Mas, enfim, festa é festa. E para contornar as dores musculares que o recurso prolongado aos sorrisos forçados pode provocar, há que arranjar tácticas que transformem o sacrifício num prazer. A pensar no serão de hoje, em vez de optar por um bolo-rei ou uma garrafa de espumante, decidi deslocar-me a um estabelecimento da especialidade com o objectivo de trazer para casa o DVD duplo que contém os dois concertos de Steve Ray Vaughan no festival de Montreux. O primeiro, de 1982, revela o guitarrista em início de carreira, a dar tudo o que tinha, mas sem conseguir conquistar a simpatia do público, à excepção de duas pessoas especiais que naquele dia se encontravam na audiência, David Bowie e Jackson Browne, que iriam ajudar a revelar ao mundo um dos grandes instrumentistas da história dos blues. O segundo, realizado três anos depois, apresenta Vaughan como um nome consagrado mas nem por isso menos empenhado em incendiar a plateia com os seus solos estonteantes. Com matéria-prima desta, não tenho qualquer dúvida de que não haverá bailarico ou fogo de artifício que consiga, hoje, competir com o meu serão. Só posso recear é vir a ser acusado de concorrência desleal.
À medida que o tempo vai passando, festejar a chegada de um novo ano é algo que me deixa cada vez menos entusiasmado. Não se trata de um caso de pessimismo militante. Faço parte daquele grupo de pessoas, que julgo bastante vasto, que não aprecia particularmente as datas em que é obrigatório estar bem disposto e confiante no futuro. Mas, enfim, festa é festa. E para contornar as dores musculares que o recurso prolongado aos sorrisos forçados pode provocar, há que arranjar tácticas que transformem o sacrifício num prazer. A pensar no serão de hoje, em vez de optar por um bolo-rei ou uma garrafa de espumante, decidi deslocar-me a um estabelecimento da especialidade com o objectivo de trazer para casa o DVD duplo que contém os dois concertos de Steve Ray Vaughan no festival de Montreux. O primeiro, de 1982, revela o guitarrista em início de carreira, a dar tudo o que tinha, mas sem conseguir conquistar a simpatia do público, à excepção de duas pessoas especiais que naquele dia se encontravam na audiência, David Bowie e Jackson Browne, que iriam ajudar a revelar ao mundo um dos grandes instrumentistas da história dos blues. O segundo, realizado três anos depois, apresenta Vaughan como um nome consagrado mas nem por isso menos empenhado em incendiar a plateia com os seus solos estonteantes. Com matéria-prima desta, não tenho qualquer dúvida de que não haverá bailarico ou fogo de artifício que consiga, hoje, competir com o meu serão. Só posso recear é vir a ser acusado de concorrência desleal.